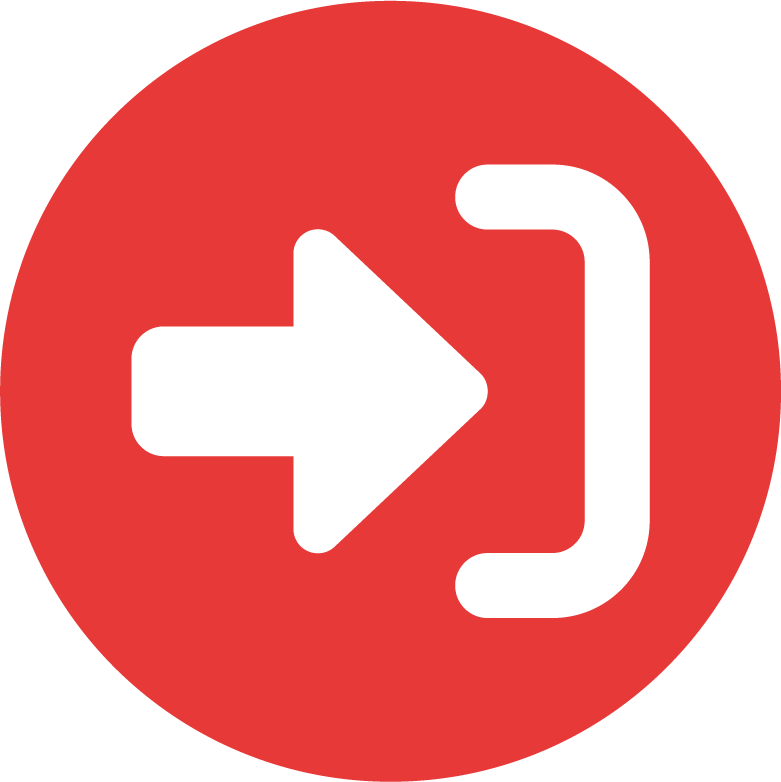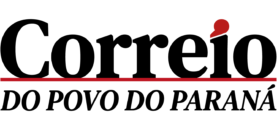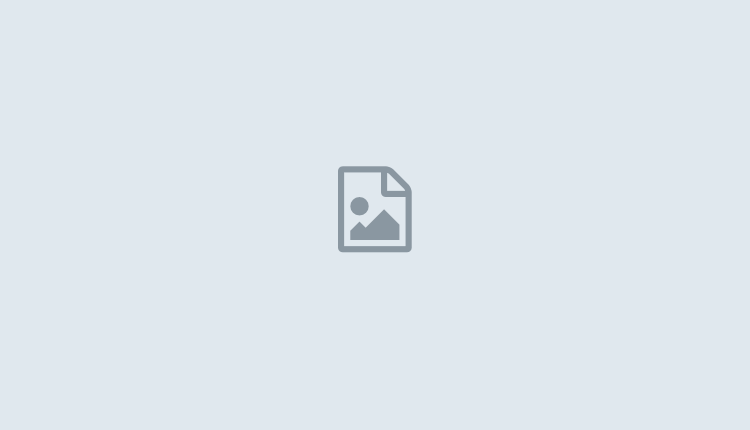Atacar estátuas virou moda de uns anos para cá. Os alvos principais, nos Estados Unidos, foram os heróis confederados. Logo depois a coisa cresceu. George Washington e Abraham Lincoln caíram em Portland; o genocida Cristóvão Colombo perdeu a cabeça em Boston, Até Mahatma Gandhi, acusado de racismo, dançou. Decapitado, foi parar em um depósito. Só restaram os pés, com aquelas sandálias no pedestal de um parque.
Tudo isso é parte da hiper politização da vida de hoje. O passado entrou na roda. Velhos fantasmas se tornam atores políticos e voltam a assombrar.
Há quem veja isso como natural. Monumentos são derrubados desde sempre. Há 2600 anos, com estátuas assírias já se liam maldições do tipo: “Quem derrubar a minha estátua sofrerá por toda a eternidade.”
A reforma e a Revolução Francesa assistiram, por razões distintas, a surtos de iconoclastia. Todos se lembram das imagens do Talibam explodindo os budas de Domiyan, e, mais recentemente, a barbárie do Estado Islâmico na cidade de Palmeira, na Síria. Há mesmo quem veja a vandalização como um tipo de arte. Monumentos vandalizados receberiam um novo significado, e poderiam até melhorar por causa disso. Um bom amigo, no recente episódio da queima de Borba Gato. “A estátua deve ficar lá, chamuscada”, disseram os que gostam desse tipo de coisa. Ela contará a história do bandeirante e também do “genocídio” bandeirante. A obra se torna coletiva. O vândalo surge como artista e encontra ou pensa encontrar sua dignidade.
Monstruosidades sempre aconteceram ao longo da história, como nos impérios espanhol e português. O fogo parece ser um instrumento de trabalho preferido.
A história está aí para ser escrita e reescrita infinitamente, não é mesmo?
Em Bristol a turma decidiu retirar a estátua do traficante de escravos Edward Colston do mar, onde havia sido jogada, e deixar a dita-cuja exposta, e deitada, nunca de pé, em um museu. O fundo do mar seria seu lugar perfeito. Seu destino é incerto. Há um debate em torno da fogueira de Borba Gato. Não se trata de uma discussão sobre se ele merecia ou não aquele destino. Se a obra do escultor Júlio Guerra foi escolhida em uma seleção pública, se era arte popular, kitsch ou apenas um “bonecão”, como a maioria das crianças se referiam àquela figura gigante. Valeria o mesmo debate sobre o Duque de Caxias, Dom Pedro II ou Getúlio Vargas, para citar alguns dos tipos mais homenageados por aí. Caxias não comandou uma guerra genocida no Paraguai? Dom Pedro não reinou meio século sobre um império escravocrata? Getúlio não fechou o Congresso durante quase uma década e mandou Olga Benário morrer em campo de concentração? Mesmo assim há quem argumente, legitimamente, que monumentos dedicados a essas pessoas são cicatrizes que devem ficar por aí, de modo a nos fazer lembrar e pensar criticamente sobre o passado.
Analogias com a derrubada de estátuas de Hitler, no fim da guerra, ou a tomada da Bastilha, em 1789, dizem semi-loucos que são falácias de colégio. Não estamos em guerra ou em uma monarquia absolutista.
Vivemos em uma democracia. Ela é cheia de defeitos, mas é o método que escolhemos para tomar decisões coletivas. Método erguido a duras penas quando fizemos a transição dos anos 80, a Constituição, as legislações inclusivas que temos hoje, como a política de cotas, o Prouni, a Lei Maria da Penha etc. no fundo. No fundo, esta é a escolha. A democracia foi inventada para que as pessoas não fiquem quebrando as coisas ou se matando por aí. É uma boa maneira de viver, mas exige alguma renúncia de cada um, além de dar um trabalho danado.